quarta-feira, 31 de julho de 2013
Conclusões
terça-feira, 30 de julho de 2013
Diálogo
segunda-feira, 29 de julho de 2013
Carpe aestivum
«Como está?»
domingo, 28 de julho de 2013
Sobre o «agora»
sábado, 27 de julho de 2013
Um violento «caso acontecido»
Lyre Bird
Os vizinhos da esquerda e da direita têm as televisões sintonizadas no mesmo canal merdoso que entretém e lava o cérebro dos reformados deste país, um dos três canais merdosos que Rangel, Moniz & C.ª Lda. nos legaram. Como são bastante surdos (os vizinhos), têm geralmente o volume dos aparelhos no vermelho, e a essa circunstância irritante junta-se o delay, o atraso na recepção do sinal entre a TV à esquerda e a TV à direita. Resulta que se não me distraio o suficiente ouço a Júlia Pinheiro, a Fátima Lopes e as novelas em cânone, estão a imaginar o pesadelo.
Hoje apenas uma das televisões estava ligada e, talvez resultado da boa combinação entre Foster Wallace e um tinto carregado alentejano, de repente pareceu-me que o vizinho sul (o outro dormia a sesta) ouvia ‘Elephant’, das Warpaint. Apurei o ouvido e foi difícil convencerem-me que era apenas mais uma pimbalhice que o vento distorcia ao ponto de fazer parecer música o que era apenas gargarejos de um cérebro aditivado com botox.
Liguei o portátil para vos dar conta deste fenómeno alentejano e acabei a pôr as meninas de Los Angeles a cantar. Para meu espanto, o vizinho acordado (o outro ressonava), que eu julgava surdo como um portão de quinta, no final da música continuou com o assobio do outro lado do muro a melodia principal de ‘Elephant’, como se fosse um conhecedor profundo da obra das Warpaint. Repeti a experiência com o mesmo resultado e concluí que, ao contrário do propagado por Moniz, Rangel & Sons, o povo não têm necessariamente mau gosto — ou que o vizinho tem alma de Lyre Bird.
sexta-feira, 26 de julho de 2013
A heroicização do Álvaro
Álvaro Santos Pereira saiu do governo e os bloggers de direita correram a escrever-lhe a hagiografia. Um exemplo paradigmático é o de Henrique Raposo:
«A atmosfera que rodeou Álvaro Santos Pereira merecia um estudo de caso. De forma inconsciente, o ex-ministro conseguiu a proeza de atrair contra si um conjunto de vícios que caracterizam bem as elites da ditosa pátria. Comecemos pelo mais evidente: a snobeira. Quando pediu para ser tratado por “Álvaro”, este homem cometeu o maior dos pecados no país dos doutores, retirou a importância aos cargos e títulos para grande irritação da porcelana que exige ser tratada por “V. Exa.” Pior: ao cheirar esta inocência tão americana, os cínicos profissionais de Lisboa atacaram como uma alcateia de hienas gozonas. Que ganda totó, pá. Nestas cabeças provincianas que se julgam moderninhas, Álvaro não procurou introduzir em Portugal um trato pessoal simples e até igualitário no sentido americano. Nada disso. Ele apenas mostrou que é um totó, um fraco, um saco de boxe. E assim foi: uma multidão de palhaços pomposos passou dois anos a socar o totó que veio do Canadá, esse sítio atrasado onde as pessoas, vejam bem, só são tratadas pelo nome próprio.»
Tudo isto é uma falácia, claro.
Pedir para ser tratado por «Álvaro» não foi um acto de inocência de um homem vindo de uma terra menos centrada em títulos, mais igualitária. Querer ser o «Álvaro» fora do seu círculo íntimo foi, isso sim, um acto de demagogia: Álvaro Santos Pereira tentou fingir ser mais um dos nossos amigos, talvez para atrair mais simpatias; saiu-lhe mal a jogada.
Até porque é falso que no Canadá os jornalistas tratem os detentores de cargos públicos com a familiaridade do primeiro nome. Nesta conferência de imprensa, o ministro canadiano das Finanças é referido como «Jim Flaherty» ou «Mr. Flaherty», e o até então Governador do Banco do Canadá é referido como «Mark Carney», «Mr. Carney» ou «Governor Carney» (o mais frequente).
(O ministro trata o ex-governador uma ou outra vez por «Mark», mas apenas no contexto mais intimista de uma resposta, em que expressa a pena sentida por vê-lo partir; os jornalistas nunca os tratam tão familiarmente.)
Outra vertente da heroicização do ex-ministro Santos Pereira é apresentá-lo como vítima sacrificial de um sistema político que não tolera estranhos. É esta a linha, por exemplo, de João Quaresma («O sistema não tolera os outsiders.»). Também isto é uma falácia. Não que o sistema político nacional não seja extremamente desconfiado dos independentes, a quem trata por vezes com inclemência. Tudo isso é verdade. Mas essa desconfiança para com os não-boys não explica totalmente a falta de poder de Álvaro Santos Pereira no governo.
Vítor Gaspar era bem mais outsider do que Álvaro Santos Pereira: tal como este, o ex-ministro das Finanças estava fora do sistema partidário. Mas, ao contrário do ex-ministro da Economia, Vítor Gaspar fez questão de por mais de uma vez deixar claro o seu afastamento — e até mesmo o seu desprezo — relativamente aos militantes do PSD. E se Álvaro Santos Pereira fora ainda outsider num outro sentido (ex-emigrante no Canadá, condição que o ex-ministro não se coibiu de usar em demagógicos exercícios de autovitimização, imputando a outros sentimentos discriminatórios que não existiam, e que ele sabia não existirem), Vítor Gaspar foi outsider em todos os sentidos: não só se viu que as suas teorias económicas não funcionam neste mundo, como a lentidão demonstrada no domínio, não apenas da língua portuguesa, mas verdadeiramente da humana forma de comunicação oral, sustentam a hipótese de ser ele um verdadeiro alien, um extraterrestre. (As semelhanças com o E.T. de Steven Spielberg eram, de resto, evidentes — se refreei até agora a comparação foi por respeito à adorável personagem cinematográfica.)
Apesar disto tudo, Vítor Gaspar era o homem mais poderoso do governo. Ao contrário de Álvaro Santos Pereira, que foi encostado ao um canto e finalmente demitido, Vítor Gaspar mandou em tudo e saiu quando ele mesmo decidiu, deixando os demais como umas baratas tontas, sem saberem o que fazer.
Álvaro Santos Pereira foi um outsider desprovido de poder. Mas a sua falta de poder não foi promovida pelos insiders, mas por um outsider ainda maior, que o relegou à insignificância. Foi esta percepção de que Santos Pereira não mandava nada, e não o seu pedido de um tratamento familiar, que estimulou os críticos (incluindo jornalistas) a saltarem-lhe à jugular. Como na selva, em política as fraquezas expostas são rapidamente detectadas e exploradas pelos predadores.
Ilustração: wehavekaosinthegarden.wordpress.com
Acerca do essencial
quinta-feira, 25 de julho de 2013
Nico — a revolta (cartaz)
O filme Nico — a revolta, realizado por Paulo Araújo, foi seleccionado para o prémio melhor curta-metragem portuguesa do MOTELx – Festival Internacional de Cinema de Terror.
quarta-feira, 24 de julho de 2013
O melhor e o pior
terça-feira, 23 de julho de 2013
O estatístico e o moralista
segunda-feira, 22 de julho de 2013
Estátuas singulares
domingo, 21 de julho de 2013
O intelecto, a imaginação e o Universo
sábado, 20 de julho de 2013
O desenho
sexta-feira, 19 de julho de 2013
Apagar
quinta-feira, 18 de julho de 2013
Coisas da memória
quarta-feira, 17 de julho de 2013
(In)satisfações
Insuficiências da juventude
Eles estão nos quarentas. Duas delas andam pelos trinta e a outra ainda não sabe o que é isso. As despesas da conversa correm sobretudo por conta deles e abordam dois tópicos: desporto e saúde. Eles fazem jogging, vão ao ginásio. Estão elegantes, planeiam maratonas. Já pesaram mais do que deviam e tiveram a respectiva ameaça de remédios para o colesterol. Agora fazem desporto e tomam atenção ao que comem. Falam durante um bocado de hambúrgueres, mas só pejorativamente, com detalhe de antigo agarrado. Comparam dietas de diferentes países, concluindo que por aqui se come mal (não exactamente do ponto de vista do paladar). Um deles exibe, como bilhete de lotaria premiado, o ticket de uma daquelas máquinas que medem tudo: massa corporal, peso, altura, pulsação, tensão arterial. Trocam informações sobre os últimos valores do colesterol. Falam de dores nos joelhos e nos tornozelos. E de exames, feitos e agendados. Banais TACs, mas também endoscopias e colonoscopias. Aqui começa a ser difícil distingui-los de reformados na sala de espera do centro de saúde. Discutem se dói, se não dói. Se a anestesia, que se paga à parte, mesmo estando isento, é uma necessidade ou uma mariquice. Falam da impressão ou emoção (nisto divergem) de ver no ecrã o interior das próprias entranhas, da dificuldade e do suor da médica nas manobras de aproximação ao intestino delgado, da limpeza que o exame revelou (resultado de uma preparação bem feita).
Os elementos femininos vão intervindo a espaços, tentando fazer humor, aduzindo testemunhos de pais ou tios, experiências de que ouviram falar. A mulher mais nova há muito que mudou de cadeira e se recostou à sombra de uma sebe, com ar melancólico, observando o voo dos insectos à luz dos candeeiros. Quando finalmente dão por isso, as outras metem-se com ela, perguntam-lhe o que se passa. Ela sai do silêncio e do torpor com ânsia de palrar: está farta desta conversa, só falam de coisas de que ela não sabe, de que não percebe nada. Di-lo com uma expressão sinceramente desolada, de quem queria participar no convívio e se sente frustrado por não ter as ferramentas, os argumentos — e não, como podia, a vangloriar-se da sua juventude.
Aceito uma cagarra
A propósito disto: «Jardim acompanha Cavaco na visita às ilhas Selvagens».
(Pensando bem, ainda há lugar para mais uma cagarra ou duas...)
Quim Barreiros dirige JN por um dia
Ao que parece, o Jornal de Notícias apresentará uma excelente prova de bom gosto como manchete de amanhã (hoje, para a maior parte de vocês). A tentação é culpar o jornal, mas um jornal não existe sem leitores. O Norte, e não só o Norte boçal, tem defendido teimosamente o JN como o “seu” jornal, apenas porque o pasquim inclui mais páginas de noticiário regional, mesmo que irrelevante. Os empresários e as luminárias do Norte sempre preferiram a noticiazinha paroquial, ainda que medíocre, a uma informação decente. As mesas de café, os consultórios de dentista e todos os velhos solares acima do Mondego revestem-se de JN. Não sei porque se queixam de o Norte ter perdido influência. Parece-me que disputamos bem o primeiro lugar ao Correio da Manhã no que toca a irrelevância ruidosa e grotesca.
(Isto faz-me lembrar como, à escala provincial, os transmontanos preferiram deixar morrer o Semanário Transmontano, o único jornal digno de prelo que aqui conheci.)
terça-feira, 16 de julho de 2013
Metamorfose e experiência
segunda-feira, 15 de julho de 2013
Hiatos
domingo, 14 de julho de 2013
Duplo movimento
sábado, 13 de julho de 2013
Primeiros parágrafos…
…de um falhanço dos idos de Março
«Lembram-se do esqueleto que há uns seis meses alvoroçou a cidade? Era eu. Sei que é difícil de acreditar, até porque o esqueleto usava barba. Mas era eu. Hoje estou muito melhor, comi qualquer coisa entretanto e barbeei-me, voltei a usar roupa. Mas as fotos que viram nos jornais eram minhas. As tíbias, os fémures, os rádios, as falanges, todo o chocalhante conjunto era meu. Até o chapéu era meu. Sim, reconheço, podia ser de um cigano. Porém, era meu. Tomaram-me por um junkie, mas isso era uma acusação sem cabimento. Naquela altura eu já tinha deixado de me injectar, as agulhas partiam-se-me nos ossos. Bebia, de facto, mas não muito. Um pouco menos do que o Rasputine. Eu sei que ele era ligeiramente maior do que eu e isso faz diferença. Ok, umas três vezes maior do que eu. Sou um tipo baixo. Um baixote. Um minorca. E magro (agora já nem tanto). E louro. Se fosse moreno, teria sido mais difícil ser baixo. Era demasiado azar para se continuar vivo. Um gajo louro tem outro lustro. E depois há os olhos azuis. As mulheres quando olhavam para mim não viam um gajo baixo, estavam demasiado ocupadas a derreterem-se com o lourinho de olhos azuis. Quando finalmente se dispunham a medir-me a altura, faziam-no aos palmos e era raro passarem dos tomates. De resto, eu tinha ali uma surpresa para elas, uma a que se agarravam de mãos e dentes. Um tipo pode ser baixo e ter um pau comprido. As leis da física não o impedem. Fizeram-se testes. Eu fiz testes, na adolescência. No início, quando percebi que tinha uma coisa telescópica entre as pernas que em certas alturas não parava de crescer, assustei-me. Achei que aquilo me podia desequilibrar. Nunca a deixava crescer sem me encostar com uma mão a uma parede. Não é incomum que os putos o façam, embora nem todos limpem a parede depois. Mas fui ganhando confiança, como os funâmbulos se adaptam à vara que os equilibra no arame. Se pensam em termos gráficos, talvez estejam com dúvidas sobre a funcionalidade do sistema, mas a representação não esclarece tudo. Há os glúteos, que se desenvolvem com o crescimento. Imaginem isto: as mamalhudas não passam o tempo a cair de queixos, pois não? Bem, algumas passam, é verdade. O que quero dizer é que o nosso sistema muscular se adapta à carga com que tem de lidar. Não era um daqueles tipos com bíceps hiperdesenvolvidos porque não precisava assim muito dos braços. Isto pode deixar confuso um alferes, quando se vai para a tropa e se fracassa nas flexões na barra, mas não as mulheres. Pelo menos há vinte anos não. Entretanto tive de me adaptar, frequentar ginásios, arranjar-lhes uns bíceps que pudessem apalpar. O centro gravitacional de um corpo não muda com as épocas e os gostos, mas por vezes tem de se arranjar uns pontos de apoio para as mãos.»
Decerto alguns de vocês pensaram que é preciso um tipo descer muito na vida para se passear pelas ruas nu e com a barba por fazer, os ossos mal seguros por umas pelicas de frango depenado. Outros, pelo contrário, ficaram encantados com a publicidade que eu tive, aquilo era uma coisa que vocês podiam fazer. Afinal, toda a gente anda a tentar dar nas vistas, a desenvolver uma nova metafísica da existência: apareço, logo existo. Mas não escondo que tinha descido na vida. Tinha descido às profundezas do Inferno e não foi porque me enganasse no caminho quando tentava vernianamente descobrir o centro da Terra — não tenho a sorte nem o espírito aventureiro, ou a astúcia, de um Pedro Álvares Cabral. Se fui parar ao Inferno foi porque meti no GPS essas exactas coordenadas e obedeci com satisfação a cada directiva dada pela menina concupiscente do TomTom.
Tudo começou vinte anos antes, quando num dia solarengo de Fevereiro, desses em que nos atrevemos a mergulhar no oceano apesar do risco de síncope cardíaca, fui arrebanhado para a vida militar. Se havia alguém que não fora concebido para a tropa, era eu: o único desporto que tinha feito até à data era o sprint, quando tentava fugir do ;bullying na escola. Sobre a porta onde fazíamos fila para entrar, como estúpidos cordeiros voluntários para o sacrifício, havia uma sigla, «EPI», e só mais tarde soube que não significava «Escola Prática de Infantaria» mas sim «Entrada Para o Inferno». Claro que o Inferno ali, no átrio barroco do antigo convento, era ainda cálido, apenas chamuscava, era mais fanfarronice militar do que realidade. Tinha muito de Comboio Fantasma, onde umas figuras com insígnias e galões procuravam desempenhar o papel de almas penadas e monstros avulsos. Um tipo assustava-se e ria-se, tudo ao mesmo tempo. Os furriéis e os alferes logravam ser tão ridículos, nas suas fardas engomadas e nas suas botas luzidias, quanto certas representações naïves da morte com gadanhas ergonomicamente erradas.
A mim a tropa trazia-me entre o divertido e o entediado, mas frequentemente estava apenas irritadiço. O regulamento e os horários eram absurdos. Quando às seis da manhã acordava com o matraquear das giletes no mármore oxidado dos lavatórios dava graças aos céus por ter sido brindado com um rosto que naquela altura ainda era quase imberbe e onde a escassa penugem loura resultava invisível aos olhos de orangotango macho e míope dos graduados. Para eles, eu não tinha barba. Tinha bochechas como nádegas de gaja, onde apetecia assentar a mão, e julgavam que me incomodavam com isso. Eu ria-me como se eles tivessem contado uma anedota e eles diziam que não era para rir e davam-me um calduço. Parecia-me paga aceitável para o privilégio de me levantar seis dias por semana mais tarde do que os outros. Por vezes acordava antes do ritual da barba, porque havia uns imbecis cujo zelo pela pontualidade na parada os fazia levantar ainda mais cedo e, no seu nervosismo, não conseguiam abrir os cacifos metálicos sem parecer que os estavam a assaltar. Eles tinham a chave do seu próprio cacifo, mas abanavam-no e batiam-lhe como quem está a ser perseguido pelo Freddy Krueger e não consegue acertar com a chave na fechadura. Depois de finalmente o abrirem, não o sabiam fechar sem bater com as portas, metidos naquela sua cabeça e naquele seu mundinho onde só havia lugar para a obsessão com as horas e a obediência cega à hierarquia.
Depois de sermos admitidos naquele patético clube masculino, tinham-nos cortado ainda mais rente o cabelo e, num patamar de uma larga escadaria, fizemos nova fila para receber o fardamento, tudo nos previsíveis tons de verde azeitona, incluindo a roupa interior, as meias e os lenços de assoar (excepto o equipamento desportivo, que era de um branco pronto a aceitar as manchas de suor, e as botas, pretas como pneus novos de chaimite parafinados). Ao contrário da maioria das lojas, ali não se aceitavam trocas, pelo que éramos obrigados a lembrar na hora os nossos tamanhos ou a viver com o remorso de os ter esquecido — e com as peças demasiado apertadas ou demasiado largas. Mas ter boa memória não chegava: as botas que recebi eram do número certo, só que, numa prova de que o rigor militar é um mito, isso não significou que elas se ajustassem aos meus pés. Nas semanas seguintes, até ser autorizado a ir a casa, tive de usar em simultâneo todos os pares de meias que me calharam para conseguir caminhar sem deixar as botas para trás, e isso não favoreceu em nada a atmosfera empestada da caserna.
De resto, cedo comecei a desinteressar-me das rotinas militares. Havia um mínimo que eu cumpria, que era permanecer no quartel, fora disso não me preocupava demasiado o que indicava o menu do dia, não estava para me aborrecer com detalhes. Os militares eram, por exemplo, muito ligados à etiqueta, falsamente convencidos daquela treta de oficial & cavalheiro. Diziam que não se misturavam peças do uniforme número dois (o de saída) com o número três (o de trabalho ou operacional) e muito menos com o de ginástica. A continência só se fazia com a cabeça coberta. Não se ficava de cabeça coberta no refeitório. Nunca se pegava numa arma enquanto se envergava a alvura do equipamento de ginástica (como se assim vestidos nos tornássemos anjos, seres incompatíveis com a violência da G3). Enfim, um rol de limitações e exigências que poderia baralhar um tipo desatento como eu era. Como resultado disto, não foram raras as vezes em que apareci na parada, com o atraso do costume, embrulhado em branco-noiva quando todos estavam de verde-oliva ou vestido para ir às putas quando havia ordem de permanência de fim-de-semana.»
sexta-feira, 12 de julho de 2013
Que maus costumes e que carrascos, afinal?
Ao contrário do que a maioria dos comentadores diz, ao recorrer a uma citação em que Simone de Beauvoir visava os Nazis, a Presidente da Assembleia da República, Assunção Esteves, não insultou o público que na galeria do hemiciclo exigia a demissão do governo — insultou, isso sim, o próprio governo.
Se não, vejamos: «Não podemos deixar que os nossos carrascos nos criem maus costumes», foi a citação feita. Ora, que mau costume recém-criado poderia Assunção Esteves assumir que se verificava naquela altura no parlamento? Claramente, o de o público na galeria se manifestar ruidosamente, perturbando os trabalhos. E o que justificava essa manifestação? A acção (des)governativa do governo de Pedro Passos Coelho (ou seja lá quem for que actualmente manda na chafarica).
Logo, a citação de Simone de Beauvoir só faz sentido se «maus costumes» = manifestação popular no parlamento e «nossos carrascos» (nazis) = Governo.
quarta-feira, 10 de julho de 2013
Palavras e silêncios
Shoplifters Of The World Unite*
Conheci-o nos anos oitenta. Tinha o queixo afiado e insolente de Morrissey e dançava como ele. A teatralidade do cantor britânico era para a terra uma estranheza — vagamente sedutora para alguns, repulsiva ou embaraçosa para os outros. Para Pierre era uma segunda pele, mexia-se nela com o à-vontade do original que emulava e a quem servia de arauto nas berças. O facto de ter estado emigrado numa grande metrópole europeia e de ser, ao contrário dos demais, ainda que circunstancialmente, de origens urbanas, facilitava-lhe, claro, a apropriação do imaginário e do guarda-roupa pop. Parecia um excêntrico, mas era apenas alguém que adoptara um estilo. De uma sofisticação vulgar noutras paragens, assaz extravagante na província.
Na pista de dança dir-se-ia exibicionista, mas só porque o resto dos noctâmbulos dançávamos como tímidos e artríticos. Ele entregava-se à música com o mesmo ar compungido ou desesperado de Morrissey, agarrando os próprios ombros, colocando dramaticamente as costas da mão na testa, virando os olhos aos céus, vivendo emocionalmente o que ouvia nas colunas da discoteca, sobretudo se o que ouvia era The Smiths.
A amizade com os autóctones teria de ocorrer, porque Pierre, agora domiciliado na terra, era ali inusitado mas não tinha perfil de solitário. Contrastava nos grupos, mas acabaria por frequentar os mesmos sítios e seguir as rotinas clássicas do burgo. Trazia hábitos de consumo de marijuana cosmopolitas, e os posteriores problemas com as drogas que partilhou com parte da juventude indígena pareciam nele mais charmosos e românticos. Quando teve de trabalhar, já numa fase descendente, parecia uma estrela de TV a cumprir uma pena de serviço cívico. Era o único servente de trolha que chegava já de manhã com os jeans arregaçados, e usava o boné com a maior pala de todo o sector local da construção civil. Era dos poucos, na altura, que tomava banho e acertava o penteado entre o final do expediente e as primeiras cervejas da noite.
Algures na viragem do século perdi-lhe o rasto. Já só o via ocasionalmente, à boleia, diziam-me que a caminho do dealer. Chegaram-me rumores, que cobardemente não refutei, que o davam como internado em centros de desintoxicação — como tantos outros, nisto não seria original.
Quando o voltei a ver, de novo magro como o Morrissey de 82, mas agora talvez mais parecido com o Michael Stipe dos anos 2000, careca e consumido como ele, a primeira coisa que notei foi a franqueza do aperto de mão. Delicado mas envolvente. Falámos de música, claro, que ele amava com a mesma intensidade mas com um gosto mais ecléctico. Tinha um programa de rádio e uma mágoa por não ter dinheiro para ir ver todos os concertos de que gostava. Disse isto sem ressentimento, com uma certa humildade, sem o ar desafiante ou provocador que ser pós-punk nos oitenta lhe dava. (Não, não era humildade, era melancolia, realismo dorido.)
Não sei se a minha amizade com Pierre poderia ser agora mais intensa e franca do que há vinte e cinco anos, mas sei que a lembrança do nosso encontro acabou de me comover. Não confundam isto com condescendência ou piedade, nem ele precisa disso nem eu estou em posição de tais sentimentos, seria pretensioso e patético. É talvez um reconhecimento, o ver nele os meus próprios sonhos irrealizados. Ou uma premonição.
* The Smiths, single de 1987
Estou lixado
Hoje, depois de há muito escancarar todos os vãos nas duas fachadas do prédio, a aproveitar como náufrago a brisa que se levantou, consegui finalmente, às quatro da manhã, baixar em dois graus a temperatura cá em casa (de 32 para 30). Significa que sentar-me ao computador é um exercício de masoquismo um pouco menos clamoroso.
Se tivesse um jardim com plantas arbustivas, poderia preencher estas madrugadas de canícula esculpindo ou fazendo a poda, como uma das vizinhas da rua de trás. Não é a primeira vez que ouço a velha senhora atarefar-se alta noite, mas geralmente apenas trata de despejar o lixo no contentor ao fundo da rua ou de arrumar o pátio a horas inesperadas. Ontem muniu-se de escadote e, em bata sobre camisa de dormir, tesourou durante hora e meia, varrendo de seguida minuciosamente o passeio. Não a podemos censurar: fazer aquele trabalho de dia teria sido suicídio e as insónias não têm de ser meros períodos de desespero, podem ser rentabilizadas.
É o que tenho tentado fazer, com menos sucesso do que a minha vizinha. Havia, teoricamente, uma certa correspondência entre o labor dela e o meu. Ambos decidíramos podar, ela os seus ciprestes, loureiros, carpa europeia ou o que quer que lhe nasceu no jardim, eu as provas do meu Os idiotas. Acontece que, ao contrário dela, eu não me consigo livrar dos ramos secos, desordenados, murchos, apodrecidos, porque nesse caso teria de me livrar de toda a obra.
O que escrevi atrás não é falsa modéstia, autodepreciação pedante. Explico-me melhor: eu estava apenas a tentar imaginar uma versão do romance que pudesse apresentar ao meu pai. E concluí que ela não existe. Se pusesse de lado a linguagem obscena, a sátira, a incompassiva crónica de costumes, ficaria talvez com uma novela amorosa ou psicológica nas mãos — negra, desesperançada, dispensável ou igualmente inapresentável. Estou lixado. Escrevi uma comédia, mas levá-la lá para casa será como contar uma anedota porca à mesa de jantar. Impensável.
segunda-feira, 8 de julho de 2013
Meta-aborrecimento
domingo, 7 de julho de 2013
Em Setembro teremos Os Idiotas
(não, não são os de todos os dias — ou serão?)
Eis uma ideia refrescante para o Verão (para o fim do Verão, pronto): em Setembro sairá Os Idiotas, primeiro romance do meu companheiro de blogue Rui Ângelo Araújo, numa edição d’O Lado Esquerdo Editora.
Em ano (e mês) de eleições autárquicas, convido-vos, não a conhecerem o Saavedra que há em vós — esperemos que não! —, mas, provável e desgraçadamente, o Saavedra que há um pouco por todo o nosso Bồ Đào Nha.
Site do livro: www.osidiotas.pt
Página no Facebook: www.facebook.com/osidiotaslivro
sábado, 6 de julho de 2013
A origem do conflito
sexta-feira, 5 de julho de 2013
ATENÇÃO! DesGoverno em funções
Novíssimo sinal de trânsito, para substituir o outro no Largo de São Bento (e no Largo do Caldas).
quinta-feira, 4 de julho de 2013
Brindes e vantagens
quarta-feira, 3 de julho de 2013
Olhar fixamente
terça-feira, 2 de julho de 2013
Balas sobre São Bento
Vítor Gaspar foi-se embora e alguns analistas e comentadores avisam-nos que ainda iremos suspirar pelos tempos em que ele mandava nas Finanças. Para além do proverbial «Depois de nós virá quem bom de nós fará...» (ou, em versão mais vernacular, «Há muita mais merda de onde esta veio...»), justifica a mau agoiro a percepção de que Vítor Gaspar era um ministro com prestígio “lá fora”: não que o homem tivesse mostrado ser minimamente competente (viu-se que não), mas os “Mercados” gostavam de ter um dos deles nas rédeas dos trocos nacionais, e ainda vamos sentir falta disso.
Sabemos que as coisas estão mal quando a lógica governamental obedece ao argumento de um filme de Woody Allen, mas sem piada nem talento de representação.
Em Balas sobre a Broadway, um encenador inexperiente de cara laroca contrata uma “actriz” sem talento e mimada, cuja única mais-valia é ser amante do gangster manda-chuva que se disponibilizou a financiar o espectáculo. Para nossa desgraça, no casting governativo a que tivemos direito falta quem represente o papel de Cheech, o guarda-costas da amante do patrão, cujo (até então desconhecido) talento natural para o show business vai desencantando as soluções que salvam a peça da monumental inépcia da actriz e do encenador. De entre os gangsters que infestam a política nacional, onde estará o nosso Cheech?!


+web.jpg)
![CONTUMÁCIA. s. f. Valentia; coragem física e moral; qualidade daquele que «os tem no sítio». [Wackypedia: contributos para um léxico alternativo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCbM78QUUY21fX3P_Xz1K6egd2EE9h4sL-xV2HPtnktSlP2u9lydX5vX0FV-yuuvwFiuMWNzmWlXZLE9TwZiyVQ2OTTxwJJEQWIC1qmijzpwonZaRwy-4RxK1CiSOFO3ypTR0CBH3PHszj/s1600/zzz_Contum%C3%A1cia_500.gif)
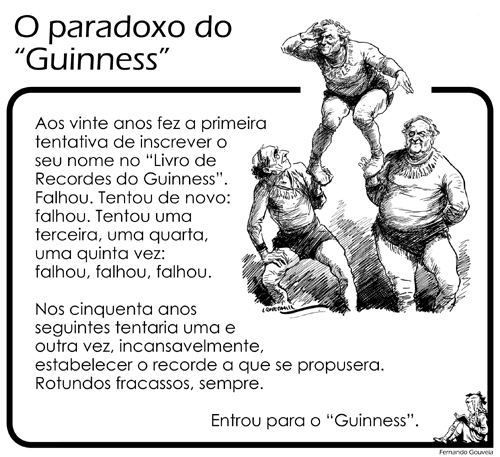


![ASTECA. s. f. A manga do casaco de um batoteiro. [Wackypedia: contributos para um léxico alternativo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWjfFIJdA4E3kVfgrkhtD_HgxIic_JgtcgqzxTpnFq2Z78wf9FC7QSuMAjk1R7rWNFUDSM1czfbDPPVYse89xwbFt8W7E32PQOg_XJD5n_M2nat76SFNeuPNMWMkdYS3pDkqbuuPPejcVs/s1600/zzz_Asteca_500.gif)




