Interroga-se o honesto ao ouvir falar do pequeno furto no supermercado: «Será que vale a pena um indivíduo sujar-se por tão pouco?» A questão parece sugerir que por roubos substanciais vale sempre a pena um indivíduo sujar-se. Muita corja, na política e arredores, aprovaria tal sugestão na prática, sem ver aí motivo de espanto, embaraço ou ignomínia. De qualquer modo, convém ficarmos atentos perante a inocente formulação dessa pergunta — sobretudo se ela for colocada por nós próprios.
quinta-feira, 31 de janeiro de 2013
Resistência de materiais
Em Outubro, Fernando Ulrich causou polémica ao perguntar retoricamente se Portugal aguentava mais austeridade, sendo a sua resposta «Ai aguenta, aguenta!». Na altura fiquei indeciso quanto a ser ou não exagerada a polémica: as afirmações do presidente do BPI poderiam ser apenas uma estirpe indesejada de manifestação de orgulho na “resiliência” do Povo Luso, ideia repetida ontem:
Se os Gregos aguentam uma queda do PIB de 25%, os Portugueses não aguentariam, porquê?
Mas a hipótese da bondade das afirmações do banqueiro cai por terra com o continuar das suas declarações:
Portanto, se você andar aí na rua e... infelizmente encontramos pessoas que são sem-abrigos, isso não lhe pode acontecer a si ou a mim, porquê? Também nos pode acontecer. E se aquelas pessoas que nós vemos ali na rua, nessa situação e a sofrer tanto, aguentam, porque é que nós não aguentamos?
Traduzindo, Fernando Ulrich não acha que Portugal aguenta mais austeridade porque a austeridade que houve até agora ainda não foi excessivamente austera, nem é opinião do presidente do BPI que a política económica do Governo é acertada e nos tirará do buraco em que estamos. Não. O banqueiro reconhece implicitamente que a política é ruinosa, que provavelmente nos afundará ainda mais no buraco, que as experiências socioeconómicas do Governo Gaspar são uma espécie de teste de resistência de materiais (que, para quem não sabe, é sempre destrutivo: vergar até partir) — mas, ressalva Ulrich, ser sem-abrigo não é necessariamente uma condenação à morte! Valha-nos ao menos isso: Cavaco não quereria ser forçado a mandar fiscalizar mais essa inconstitucionalidade.
P.S. A parte mais tocante das declarações de Fernando Ulrich foi aquela em que aventou a possibilidade de também ele se tornar um sem-abrigo. Chorei lágrimas de sangue.
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
Percurso de vida do Homo politicus lusitanensis, segundo o Dr. Relvas
O post do Rui sobre os juvenis da fauna partidária trouxe-me à lembrança uma infografia que criei quando veio a público o caso Relvas/Lusófona:
Interpretação de sonhos
 |
| Salvador Dalí, O Toureiro Alucinogénio, c. 1968–70. |
Interpretar sonhos — sobretudo os menos óbvios — é desde logo interpretar uma anterior interpretação: aquela que o inconsciente faz de si mesmo, recorrendo a imagens e símbolos. Se o sonho for lúcido, haverá que admitir uma segunda interpretação: aquela que a consciência, desperta no sono, efectua relativamente a esses conteúdos, inclusive alterando-os. Se o sonho pertencer a outra pessoa, teremos ainda a interpretação que ela, descrevendo-o, não evita. Interpretar sonhos constitui, assim, uma ousadia que vale a pena.
A monarquia dos jotas
Uma noite destas os meus passos cruzaram-se com os de um grupo de jotas. Não é o género de experiência que se queira ter com regularidade. Equivale a sairmos à rua na noite dos mortos-vivos e darmos por eles tarde demais para mudar de passeio. Sinistro assim.
Como já todos tiveram decerto oportunidade de apreciar, os jotas são uma espécie de guarda pretoriana dos partidos que ambiciona — e consegue — obter cargos políticos. Enquanto adolescentes, fazem de claque, de tropa de choque ou de aias dos chefes partidários. Vão aos comícios, aos jantares e às cerimónias, com a sua prestabilidade e a sua coqueteria, criar a ilusão de que os líderes são homens de estado, respeitados e respeitáveis, admirados e amados, carismáticos e visionários. São a cortina de fumo que se interpõe entre os políticos e a realidade. Uma pequena corte de pajens obsequiosos que ajuda o soberano a construir castelos no ar. Os chefes dos partidos não enfrentam a verdade porque para a verem teriam de avançar à catanada através de uma selva de jotas. A sua estrada de Damasco é uma picada africana que só se cruza se se estiver disposto a usar generosamente a espingarda de caça grossa antes de cair do cavalo. Como os chefes não o estão, não se dá a epifania. Nem caem do cavalo. Ou se caem é para deixar subir à sela, incólume, um jota da sua predilecção.
Mais tarde, os jotas recebem os seus postos na máquina do Estado para, numa primeira fase, continuarem com mais e melhores meios o trabalho de incensar o chefe e firmar o seu poder absolutista. Na fase seguinte, iniciam o seu próprio reinado de inépcia, arbitrariedade e terror na parte de território que lhes tenha sido atribuída durante a repartição dos despojos.
Em Portugal os jotas têm vindo a chegar aos mais altos cargos do poder. E isso é como ter nos postos de comando nacionais duques e condes (pela pesporrência), aias (pela intriga palaciana) e pajens (pelo corte de cabelo). Nesta particular espécie de monarquia, ao povo não resta mais do que o papel de bobo da corte.
Quem imagina que em Portugal o feudalismo acabou quando acabou a Idade Média, não vive cá. O feudalismo não acabou: apenas pôs gravata e, mais recentemente, gel no cabelo.
O magala e a namorada
Como faziam soldados de incorporações muito anteriores à dele, levou a namorada ao parque depois de jantar. A noite está fria e convida pouco a sentar no banco à beira-rio, mas eles não parecem enregelados. Talvez estejam mesmo apaixonados, camonianamente aquecidos. Ela cruzou as pernas sobre o banco e pousou as mãos nos joelhos, a ouvi-lo. Ele fala sobre o juramento de bandeira — e de repente parece-me que, embora a humanidade seja vasta, é limitado o número de cenas que ela tem para representar, limitado o número de deixas que tem para dizer.
Um magala do século XXI será uma reencarnação de todos os magalas que o antecederam? Seguirá cada vida individual um guião comum, transversal aos tempos? Infinitas são as reencarnações, não as conversas que se podem ter? Que singularidade exibe cada um de nós perante as décadas, os séculos, ou perante um observador que nos espreite de Alfa Centauro?
No mundo claustrofóbico que por instantes é o meu enquanto atravesso o parque, os magalas estão agora autorizados a sair do quartel sem farda nem boina à banda, mas não a criarem narrativas originais.
terça-feira, 29 de janeiro de 2013
Canto da sala
 |
| René Magritte, A Sala de Escuta, 1958. |
Eleger um dos cantos da sala — não só para observar, senão também para reduzir o incómodo do olhar do outro — representa uma escolha de convivência baseada num pressuposto de cariz matemático: incluindo chão e tecto, quatro faces do cubo garantem mais resguardo social que apenas duas. Os obstáculos à opção residem na eventualidade de haver muitos interessados ou de as paredes do aposento serem feitas de vidro transparente. Mas é importante não temer essas excepções quase irreais.
Sentenças de um nouveau gauchiste
A crise encostou muita gente à esquerda. Uns porque, como crianças, procuram as saias de uma mãe menos severa, mesmo que tonta ou de pouca valia. Outros porque sofreram na pele o receituário que imaginavam apenas ser destinado a terceiros e agora estão ressentidos, clamam vingança. Outros ainda por orfandade, porque perderam ilusões quanto à bondade da direita e do sistema que ela preconiza.
Um destes nouveaux gauchistes apontou hoje aquilo que para ele é a falta de seriedade ou de competência da direita. No início da crise determinava-se que havia que despedir 120 mil funcionários públicos ou baixar salários. Dois anos depois, baixados drasticamente os salários, insiste-se via FMI que é preciso despedir 120 mil funcionários públicos. Falhou a matemática ou caiu a máscara?
Eu até acho que o Estado precisa de, a médio prazo, dispensar funcionários públicos, mas concordo que falta seriedade ou competência a esta direita.
Entretenimento
O poder da televisão
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
O trabalho e a essência
 |
| Diego Rivera, Construção do Palácio de Cortés, 1930–1931. |
Afirmar, à semelhança de Karl Marx, que o trabalho é a essência do Homem equivale a cometer dois pecados simultâneos: o de crucificar a espécie, fazendo dela uma cansativa apoteose do esforço, e o de maltratar o ócio, fazendo dele uma ocorrência acidental da espécie. Ora, não se exclui a hipótese de a eventual essência humana ser mais núcleo de repouso que febre de movimento, mais contemplação do mundo que tendência inelutável para lhe alterar a figura.
Casa dos Segredos: O Horror, o Horror...
Não tenho televisor em casa (coisa que custa fazer entender aos senhores da ZON e da MEO) nem acompanho consistentemente a imprensa nacional (excepto na meia dúzia de assuntos que me interessam particularmente). Por essa razão, devo ser dos poucos para quem constituiu surpresa a descoberta recente: o Canal Parlamento (ou ARTV) está disponível para toda a gente (com televisor...), sendo o 5.º canal da miseranda TDT nacional.
Transitar da TV analógica para a TDT e não aumentar, como aconteceu em todos os países europeus, a oferta televisiva em sinal aberto (sem ir mais longe, a RTP Informação era uma candidata óbvia) foi uma significativa demonstração da falta de consideração dos nossos políticos para com os súbditos de menos posses. Mas “corrigir” meses depois esse lapso arremessando-lhes com o Canal Parlamento assume foros de tratamento desumano e degradante. A Amnistia Internacional deveria pronunciar-se.
P.S. A imagem apresentada foi capturada sábado, dia 26; só por aí se vê a qualidade de serviço...
Dançando em frente à televisão
Não muito depois da tropa, há cinquenta e tal anos, e mesmo não tendo casado, adoptou para sempre os costumes e os modos de um certo tipo de homem responsável e convencional do seu tempo: a circunspecção, o pudor, a respeitabilidade. Todo o resto da sua vida passou a encarar a folia e o prazer como tolices, desvios da juventude. Olhava-os e falava deles não exactamente, ou não sempre, com censura, mas com paternalismo (nos melhores dias) ou com a condescendência que se tem com os doidos, uma condescendência por vezes contrariada, como contrariada era a sua aceitação de algumas das liberdades de Abril.
Mas como homem do seu tempo (ou como homem tout court) tinha também uma vida dupla. A pública, respeitável e austera, e a privada, onde se concedia, pelo menos ao nível do pensamento e do desejo, os direitos próprios dos machos, como ele os entendia. O tipo de pessoa que idealizava e representava em sociedade via ser-lhe aliviado um pouco o regime na intimidade. Ninguém diria, por exemplo, que adquiria pornografia, e no entanto adquiriu-a até à entrada da velhice. Ele, o indivíduo severo que tinha sempre uma repreensão pronta para as poucas-vergonhas na TV e para a brejeirice em certas cançonetas.
Hoje, vendo as actuações musicais de um programa da TVI, confessou para quem o ouvia que com frequência se deixa agora dançar sozinho em frente à televisão. Os que o conhecem não o imaginam a fazer tal, com os seus cem quilos, os seus movimentos lentos, paquidérmicos, os seus oitenta e muitos anos, os seus óculos e pose de Marcelo Caetano. «E correm-me lágrimas ao ouvir estas cantigas», reforça para os incrédulos.
As cantigas da televisão, com a sua monomania sexual e as suas bailarinas de coxa roliça ao léu, são do género que ele vilipendiaria na meia-idade. Têm, no entanto, a base rítmica, os acordes, a simplicidade de espírito e por vezes o fraseado na concertina de outras melodias populares na sua juventude. É decerto isto que ele ouve lá na sua televisão de velho solitário — não os sucedâneos de lupanar raiano que a TVI apresenta.
domingo, 27 de janeiro de 2013
Obliquidade
O poema Chuva oblíqua, de Fernando Pessoa, parece pressupor, em virtude do título, que há chuvas desprovidas de obliquidade — ou quedas perfeitamente verticais de gotas de água. À facilidade de o conceber junta-se a dificuldade de o provar. Em todo o caso, é interessante o facto de aceitarmos a expressão «perfeitamente vertical», mas resistirmos ao uso da expressão «perfeitamente oblíquo». Talvez achemos que a vertical e a horizontal perfeitas constituem ideais a atingir pelas nossas oblíquas existências.
sábado, 26 de janeiro de 2013
Com as mãos ambas*
Ia ontem mesmo começar A Piada Infinita, de David Foster Wallace (juro!), mas S. Pedro não me deu uma mão. Quer dizer, pelo menos impediu-me de usar as minhas. Quando se vive em Trás-os-Montes e se lê na cama, sem aquecimento central (ou outro), dificilmente se aceita ficar com as duas mãos de fora dos cobertores em Janeiro. E, vocês sabem, A Piada Infinita precisa que a agarremos com todas as mãos disponíveis. Não estou a ser metafórico, o livro pesa, pode causar luxações nos pulsos. Fica para a Primavera. (Podia ser pior, já houve quem o deixasse para as calendas gregas.)
* Título roubado a uma anedota familiar. A ver se a conto, um destes dias.
O bolso aniquilante
Suponho que numa animação de Bill Plympton, um homem, após meter a mão na algibeira, é por esta sugado até desaparecer completamente. Poderíamos estar perante uma alternativa à morte e à certeza que dela se tem, desde que a extinção ocorresse, de igual forma, na memória dos vivos. Mas só um reajuste súbito do mundo levaria a evitar a ideia de que algo estranho acontecera, garantindo também aos bolsos que permanecessem a entrada secreta para o esquecimento.
Troca-me isso por unidades do Sistema Internacional...
Livros de auto-ajuda
A notícia de um livreiro minucioso a mudar os livros de (ou sobre) Lance Armstrong para as prateleiras da “ficção” fez-me lembrar que as obras mais recentes de Ian McEwan e Paul Auster poderiam ser arrumadas na secção de “auto-ajuda”. Seriam, aliás, ali mais úteis do que a maioria das obras que por lá se encontra. (Bem, mais úteis para candidatos a escritores, não para candidatos ao psicanalista ou ao jet set nacional.)
McEwan resolveu incluir, sem grande disfarce, um curso de escrita criativa em Mel. Lá se foi o negócio dos Booktailors, de Rui Zink ou de João Tordo: os neófitos das letras só têm de seguir Serena, a protagonista, enquanto ela vai decifrando o método e o processo do seu amante escritor. Poupam umas coroas e não têm de aturar o ego do formador. Pelo menos não ao vivo.
O aprendiz tem dúvidas, esbarrou na página em branco, carece de personagens secundárias ou mesmo de protagonistas? Aprenda com o Tom Haley. A Serena explica como se faz (ainda que a pobre não saiba quão longe pode um escritor ir na apropriação da realidade para o texto ficcional.)
O Diário de Inverno de Paul Auster tem a ambição — menor, mas igualmente útil — de humanizar o escritor. Revelando, por exemplo, que também ele tira prazer de se peidar. Se isto não ajuda qualquer um a ganhar confiança para escrever o seu próprio livro, não sei o que há-de ajudar.
E isto, que parece admirável, é trágico. Que os escritores se ponham a abrir o jogo e a descer do pedestal. Nos dias que correm, já qualquer Zé (eu incluído) acha que pode escrever um livro; deixando-as suspeitar de que o podem fazer e explicando-se-lhes como o podem fazer, manadas inteiras de bisontes hão-de atirar-se ao Word.
A minha esperança é que a concorrência seja tão estúpida como parece e continue a achar que para escrever um livro não precisa de ler nenhum. De resto, as tiragens em Portugal dão-me algum conforto. Entre sobras, ofertas e calços de mesas vai o grosso de uma edição. Talvez três portugueses comprem e leiam os seus exemplares.
sexta-feira, 25 de janeiro de 2013
Descobertas conciliantes
Aprofundando a abordagem ao mundo inteligível, Platão parece ter recusado a existência de Ideias de objectos de escassa nobreza, como lama ou pêlo. Ora os cientistas acabam de revelar que os escaravelhos, empurrando bolas de estrume, se orientam pela mancha luminosa da Via Láctea. Eis uma descoberta de valor cósmico que, vencendo pruridos do inventor da alegoria da caverna, ajuda à conciliação entre o insecto errante e a fulgurosa estrela, o vil excremento e o esplendor sublime.
A generosidade de Gaspar
O IRS em Portugal, reza a lenda, funciona de forma progressiva, constituindo uma forma de discriminação positiva: quem menos tem, menos paga, não só porque a taxa aplicável é menor (segundo o escalão de rendimentos), mas também porque tem direito a maiores deduções à colecta e benefícios fiscais.
Relativamente aos rendimentos de 2012, por exemplo, um contribuinte não casado e sem dependentes com 24 mil euros de rendimento bruto terá direito a uma dedução máxima de 650,10€ relativos a juros da hipoteca da casa, 838,44€ relativos a despesas de saúde, 760€ relativos a despesas de educação. Com uma nuance importante: os máximos não são sempre a somar, pois sobre eles cai um “tecto”: para este escalão de rendimentos, o total de deduções à colecta não pode ultrapassar o limite máximo de 1200€.
Já um contribuinte com apenas 11 mil e quinhentos euros de rendimento bruto poderá deduzir até 886,50€ por conta da hipoteca da casa (na saúde e na educação não há diferenças). E, glória máxima da discriminação positiva: não existe limite global máximo às deduções à colecta para este contribuinte.
Antes que o leitor sucumba em lágrimas perante a generosidade do Ditador das Finanças, façamos umas continhas.
Deduzir 886,50€ por conta da hipoteca da casa significa ter pago 5910€ de juros do empréstimo. Tendo em conta que em 2012 os juros representaram algo entre os 30% e os 40% das prestações da hipoteca, o ministro Gaspar esteve (figurativamente) a dizer a um contribuinte que ganhou 11 mil euros no ano passado: «Por mim está à vontade — pode gastar 15-20 mil euros em prestações da casa (e 2500€ em educação, e mais de 8300€ em saúde...), que nós aqui abatemos-lhe alguma coisita no IRS...»
Extravagância
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
Um pequeno passo para nós, um grande salto para as Finanças portuguesas
Ora aí está. No dia em que inaugurávamos oficialmente o blogue Iniciação ao Tédio, Portugal regressava aos mercados. Soubéssemos nós que era assim que a coisa funcionava, tínhamos tratado disto mais cedo.
Causa e efeito
Na base das regularidades da natureza, que os cientistas demandam com anelo, encontra-se o sacrossanto princípio da causalidade. Ora se, como David Hume, admitirmos que tal princípio, suportado pelo hábito, carece de fundamento racional e imaginarmos que também das coisas ele se acha, de facto, ausente, reduzindo-se à expressão do nosso desejo de ordem, a mente abandonará todos os hiatos que permitem à causa gerar o efeito. Será esse o início de uma bela e inútil plenitude.
quarta-feira, 23 de janeiro de 2013
Resultado
 |
| Ansel Adams, Canyon de Chelly National Monument, 1942. |
Se o que somos hoje é o resultado exacto do que até hoje fomos, existe pelo menos uma operação aritmética — ou várias, incluindo adições sombrias, subtracções indulgentes, multiplicações perigosas e divisões imparciais, devidamente conectadas — que todos realizam com sucesso, sem que um mínimo esforço se lhes peça. Contas assim, susceptíveis de dar razão aos adeptos do destino universal, não servem de consolo a quem prefere achar a sua vida um tremendo equívoco. Mas o argumento parece irrefutável.
terça-feira, 22 de janeiro de 2013
Nuvem e neve
Por vezes, nuvem e neve confundem-se no topo dos montes. Se avançarmos até esse ponto, não esqueçamos que também aí nos podemos desiludir. Coube-nos em sorte a textura do efémero. A nossa casa de células não foi edificada para uma cidade eterna. Salvemos em tudo isto, pelo menos, a sombra de uma sombra. Não vá o dia privar-nos da memória das coisas breves, dos fragmentos que prolongamos, do contraste que há entre o esplendor e a vertigem.
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
Fossem os pensamentos visíveis
Fossem os pensamentos visíveis a olhos comuns — por exemplo, numa faixa de vinte centímetros medidos a partir do crânio — e a preocupação com a imagem revelar-se-ia muitíssimo superior àquela que, geralmente, aflige a criatura humana. Distintas formas e cores encheriam os cenários de dentro, convertidos afinal em paisagens de fora. Mas também pode suceder que tal inquietação jamais se manifestasse. Universalmente exposta a estrutura de cada segredo, nem o eu nem o outro teriam ilusões a acrescentar.
domingo, 20 de janeiro de 2013
O discurso vazio
 |
| Herbert Bayer, Habitante solitário da grande cidade, 1932. |
O discurso vazio não reclama de quem o produz mais do que a entrega exclusiva às palavras, deixando que elas definam o curso e a substância das ideias. As suas grandes vantagens são a de pouco exigir do raciocínio e a de nada pedir à emoção. Errado será pensar que nele se espelha o chamado vazio interior. Este — que se diferencia da escassez de reflexão e da secura da inteligência — exprime-se, em geral, mediante estratégias menos desonestas.
sábado, 19 de janeiro de 2013
O véu
Na «posição original», sob um «véu de ignorância», os indivíduos, acredita John Rawls, sentir-se-iam impelidos a favorecer, num quadro de justiça, aqueles que pudessem ocupar a situação social mais ingrata, receando a hipótese de virem a ser eles os contemplados. Só que o «véu de ignorância» não garante a ignorância do véu. Mesmo desconhecendo concepções de vida e tendências psicológicas próprias, ninguém desconheceria o facto de as desconhecer. E nessa altura também não faltaria quem tentasse adivinhar.
sexta-feira, 18 de janeiro de 2013
O caminho a seguir
 |
| Edward Hopper, Cinema em Nova Iorque, 1939. |
quinta-feira, 17 de janeiro de 2013
O arqueiro
Tratava-se de um arqueiro exímio: começava por atirar a flecha; seguidamente, fazendo-a coincidir com o centro, desenhava o alvo em redor. Procedemos de modo semelhante ao pretender definir um sentido para a vida: primeiro, existimos lançados em situações concretas, adoptando os valores implícitos; depois, colocamos a toda a volta as razões e os fins que nos justificam. A analogia, no entanto, encerra duas falhas: nem a vida, enquanto vida, se detém — nem o sentido nela se eterniza.
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
Vias hermenêuticas
 |
| Vieira da Silva, O Metropolitano, 1940. |
De vários modos afirmaram sábios que «não há problemas entre o mundo e o eu, apenas entre o eu e a interpretação que ele faz do mundo». Mais abrangente surge a ideia ao admitirmos que o mundo se reduz à interpretação que dele se faz. E ainda mais completo se afigura tal pensamento ao concedermos que também o eu se reduz à interpretação. Consequentemente, poderia dizer-se que «não há qualquer problema a resolver, só interpretações a acontecer».
terça-feira, 15 de janeiro de 2013
O geek e a facada no matrimónio: Those two just don't match
O autor do post que partilho mais abaixo é informático. Percebe de software de gestão, comunicação electrónica de dados, encriptação (e os perigos da falta dela) e data mining. O autor daquele post é um geek, portanto.
Assim, a teoria da conspiração que nos apresenta à volta das novas facturas electrónicas está bem fundamentada e é credível...
... até àquela cena em que o marido infiel pede factura em seu nome das despesas (sex shop, restaurante, hotel) que faz quando está com a amante. Presumo que também tenha pago com Multibanco ou Visa, para a mulher encontrar os movimentos nos extractos bancários...
Definitivamente, os geeks não percebem nada de facadas no matrimónio.
Alguém acorde, Ficheiro SAF-T e privacidade
E quem tem estas bases de dados? É uma empresa privada? Quem está à frente disto, quem vai garantir a privacidade dos dados? Alguém acorde por favor, alguém nos defenda!
segunda-feira, 14 de janeiro de 2013
1. Somos Portugal
Num primeiro momento, rebelo-me contra aquele abuso. Imagino uma certa petulância na proclamação. Depois caio em mim. Claro que aquela gente é Portugal. Eles e o povo que assiste, regalado. Os que ficamos de fora não chegamos nem para fazer uma tribo, quanto mais um país. De resto, temos sentimentos tão pouco nacionalistas que não nos devemos indignar se um destes dias nos tentarem exilar.
2. A TV do Quim Roscas
domingo, 13 de janeiro de 2013
Otorrinolaringologia
Era uma rapariga alegre e não dava grande atenção ao guarda-roupa e ao aspecto do cabelo. Tinha um défice de auto-estima ou não a sensibilizava a questão (ele nunca percebeu bem). Achara a simplicidade ou a falta de empenho no visual de certo modo amorosas, embora não fosse um entusiasta do género descuidado. Depois de começarem a andar juntos é que ela foi introduzindo pequenas mudanças nos seus hábitos, preocupações estéticas. Um dia um casaco, no outro uns brincos, uns saltos altos, no seguinte um vistoso eyeliner, umas madeixas. Idas regulares ao cabeleireiro eram a última novidade. Ele tinha apreciado o ímpeto de mudança, sentia-se lisonjeado com o esforço dela, embora nem sempre concordasse com as opções. Poucas vezes, na verdade.
Nos últimos tempos sentia um mal-estar quando estavam juntos. Era um sentimento difuso, intangível, algo que pairava no ar mas simultaneamente físico. Preocupava-o não conseguir identificar as razões.
Quando ao fim de uns meses a lista de espera no hospital lhe permitiu a septoplastia que fora considerada urgente, correu ao encontro dela com uma alegria especial. Uma fase da sua vida tinha sido suplantada com sucesso e afinal nem tinha custado muito, embora ainda usasse com incómodo os tampões nasais.
Livrou-se finalmente deles uns dias depois e pôde de novo cheirar a vida e o mundo, agora com uma acuidade de que já não se lembrava. Vestiu-se com algum cuidado para o jantar dessa noite.
Mal se sentou à mesa — aliás, ainda antes de se sentar à mesa com ela —, percebeu qual era a razão do seu mal-estar. A namoradinha, naquele seu processo de auto-confiança ou vaidade, começara também a usar perfume, com a sua simpatia, mas só agora, com as vias desobstruídas, ele podia perceber como era atroz o gosto dela. E não era apenas uma questão de a fragrância ser horrorosa, escolha de fã do Tony Carreira. Era a quantidade daquilo. A namorada, ao que parecia, tomava banho de imersão em perfume contrafeito. Devia investir uma fortuna por mês nos ciganos ou lá em quem lhe vendia os frascos.
Aguentou uns minutos à mesa, indeciso entre falar-lhe dos benefícios de uma septoplastia mesmo para as pessoas comuns ou ser mais directo quanto à questão. Optou por pagar discretamente a conta, mesmo que não tivesse ainda provado a sapateira, e informá-la falsamente contristado que tinha conhecido outra mulher.
Abateram as mimosas (2)
Não aconteceu tal coisa. A quinta foi loteada e não creio que tenha sobrado uma mimosa entre as vivendas.
Mas é verdade que ainda não passaram cinquenta anos e que aquele solo pode estar pejadinho de sementes. (Eu a esfregar as mãos.)
Abateram as mimosas (1)
Nos manuais de botânica e na internet chamam-lhe Acacia Dealbata, mas parece-me que é só para a insultarem e poderem dizer coisas como «é provavelmente a espécie invasora mais agressiva em sistemas terrestres em Portugal Continental». Foi importada da Tasmânia para nobres fins ornamentais e agora querem que seja o equivalente botânico do Diabo-da-Tasmânia, pelo menos que sói tão assustadoramente.
Aqui no parque havia dois núcleos de mimosas. Um deles, entre outros benefícios, protegia-nos da presença incómoda da cidade, como o fazem noutras faixas pinheiros, carvalhos e algumas espécies ripícolas.
A extensão norte do parque (um excelente resultado do Polis, programa tantas vezes injustiçado) é na verdade um troço de caminho que acompanha o rio por cerca de um quilómetro. É a parte mais interessante do percurso, porque nos permite caminhar na cidade quase sem lhe dar pela presença. O rio ali corre num vale estreito e fundo o suficiente para que as casas e os prédios sejam esquecidos, e a sensação de afastamento é ajudada pelas vertentes arborizadas.
No entanto, paira uma ameaça sobre este retiro. Apesar da crise, o urbanismo (a verdadeira espécie invasora do continente e ilhas) reclama território virgem e abate arbóreo, como sempre faz. E se isso não fosse suficiente, a limpeza e a desmatação rotineiras que as margens vão merecendo parecem padecer de excesso de zelo. Não raro notamos uma árvore em falta, apercebemos o desaparecimento de um ou outro conjunto arbustivo que não parecia fazer mal a ninguém, descobrimos aqui e ali pequenos troncos decepados que a olho nu não revelam doença ou velhice.
Agora foi a vez das mimosas. Ali, onde elas se preparavam como todos os anos para colorir de amarelo-canário uma vertente particularmente assombrada pelo mau-gosto urbano, existe agora um vazio, e por detrás dele construções feíssimas.
Um dia, temo, deixará de fazer sentido correr ou passear no parque, porque sem vegetação será como passear nos quintais das traseiras de desconhecidos. Sem folhedo e mimosas a florir será como permanecer num despido Inverno de subúrbio à portuguesa, desordenado e feio como sempre são.
Aquele troço do rio, em ambas as margens, merecia regras de protecção e alguma reflorestação. Como isto parece pouco provável, resta esperar que o pior que dizem das mimosas seja afinal correcto:
«A mimosa tem a capacidade (…) de se multiplicar vegetativamente a partir de caules recentemente cortados (rebentação de toiça) ou da formação de lançamentos aéreos a partir das raízes laterais, originando novos indivíduos a certa distância da planta-mãe. Produz um elevado número de sementes, facilmente dispersas por animais (p. ex. pássaros e formigas), por vezes pelo vento e pelo próprio homem; a maioria acumula-se debaixo da árvore, e mantém-se viável no solo por muitos anos (50 anos, ou mais), aguardando pelo ciclo seguinte de perturbação e regeneração.»Perturbação e regeneração — parece-me uma boa maneira de pôr as coisas. Cumpra-se o ciclo.
sábado, 12 de janeiro de 2013
Bicharada
Noutra altura o rato quis escapar-se para o lado do rio, mas encandeado pelo sol falhou por centímetros o buraco para escoamento de águas pluviais no muro e bateu com a cabeça no perpianho. Deve ter doído.
Hoje um chapim e um melro brincaram de Tom e Jerry, o chapim em voo rasante e o melro a correr pelo chão. Na verdade, fugiam ambos de mim (sou assim assustador, mas amo-os), apenas escolheram inadvertidamente uma trajectória de fuga que por instantes coincidiu e fez parecer que o melro perseguia o chapim.
Ou será que o perseguia mesmo? A expansão do neoliberalismo pode alterar a cadeia alimentar, dá ilusões de predador a qualquer um.
Baixista
É verdade que no meu mundo o lugar de guitarrista já estava (bem) ocupado, e não haveria nada que eu pudesse fazer para conquistar o posto, excepto talvez abater o titular. Mas não se ganharia nada com esse esforço e esse crime, excepto mais um guitarra-ritmo medíocre. E eu perderia um irmão. (É certo que tinha mais dois.)
No princípio faltei às aulas e tangi uma viola barata até fazer sangue nos dedos. Mudei para o baixo mal houve possibilidade de usar um, e continuei a massacrar as polpas, desta vez com bolhas e calos. (Não sei se já deram conta, mas tocar um baixo é como acariciar uma grosa, assim romântico e esfoliante.) Insisti tanto no exercício que julgo perceber o papel submisso numa relação sadomasoquista. No final conseguia realizar algumas piruetas com os dedos — e falhar uma boa meia dúzia de notas. É que o ouvido nunca acompanhou o desenvolvimento digital. E o estilo: fui talvez o primeiro baixista a usar luvas sem dedos e gel no cabelo nos bailes das castanhas de Carrazedo de Montenegro, mas fui também decerto o que menos vezes se ateve ao tom e à escala.
No meu tempo, um baixista aceitava tocar nos bailes pelo dinheiro e pela “experiência”. Tocar em cima da galera de um tractor era um bom tirocínio, defendíamos. A primeira vez que o fiz, substituindo um músico que tinha sido mobilizado pelo exército, o conjunto ia já na quinta rapsódia quando eu finalmente descobri a sequência de acordes da primeira música. Creio que o líder da charanga tirou o baixo do PA no final do primeiro compasso e tudo o que eu ouvia, eu e mais ninguém, com atenção e proximidade de Narciso à beira lago, era o som do meu amplificador. Podia ter ficado toda a noite a tentar decifrar o resto do repertório e a sentir na orelha a vibração do altifalante que ninguém lá em baixo se daria conta.
Mas alguma consciência das minhas limitações (e da avançada embriaguez) eu tinha, já que foi com alívio que recebi (eu e a banda) o aparecimento-surpresa do antigo baixista, em folga da tropa. Anda hoje sonho com a aflição de não acertar uma nota e a alegria de ver um tipo de bigodes subir ao palco e pedir autorização para tocar uma música ou duas. Aquilo começa por ser um pesadelo, pela aflição, e termina como um pesadelo, pelos bigodes. O alívio na verdade só acontece quando acordo e me lembro que não voltei ao palco.
De tanto praticar, atingi uma competência relativa no baixo, mais devedora da pura mecânica dos tendões do que da obediência a qualquer escala. Isso e o talento real do mano puseram-me um dia de fato e colete verdes no palco do Rock Rendez-Vous, quando já não havia Rock Rendez-Vous e a RTP2 decidiu inventar um miserável sucedâneo. Mas isso é história para outra altura. Chega de humilhação para uma noite. Já consegui não fazer o que tinha para fazer hoje.
sexta-feira, 11 de janeiro de 2013
O relatório do FMI e o (fim do) Estado português
A propósito do relatório do FMI, o agora menos moderado Pedro Lomba conclui o seu artigo no Público com uma evidência: «…este Estado tem de mudar. Se não mudar, implode.» Faltou-lhe foi acrescentar que, não implodindo, há alguém que vai tratar de o fazer explodir. Para todos os efeitos o Estado português será demolido. Resta saber se pelos seus próprios vícios se por alguém ter interesse nisso. Talvez nunca o venhamos a saber, tal a mistificação e o sucesso do discurso da austeridade.
Em muitos aspectos, o Estado português não merece que o defendamos. Os próprios portugueses tornaram a sua defesa uma tarefa um pouco suja. Até certo ponto, pode-se dizer que, como país, temos o que merecemos.
Durante décadas, a sociedade portuguesa foi cúmplice do nepotismo, da cunha, dos favores, da troca de empregos por um punhado de votos, da corrupção, do caciquismo, do despesismo, do oportunismo, do chico-espertismo e de uma boa dúzia mais de ismos perniciosos. Os portugueses pugnaram sempre por eleger os políticos que os tratavam como crianças ou imbecis. Era esta a sua opção firme. O tipo que mais banha-da-cobra vendesse era o que levava os votos. Para o eleitorado, as boas ou más medidas políticas não eram as que tinham o bom governo do país como objectivo ou falhavam nisso — eram as que iam ou não ao encontro das mais altas expectativas do português, geralmente em domínios espúrios. E as medidas não dependiam do PIB ou duma qualquer estratégia governativa. Dependiam da boa ou má vontade do líder; do seu bom ou mau carácter; do amor ou do ódio que este tinha aos portugueses. Se um líder propunha apertos de cinto ou moderação de despesas públicas, não era alguém sensato a tentar ter mão na economia — era um malvado que só nos queria prejudicar. Se, pelo contrário, propunha baixar os impostos e investimentos a rodos, não era um irresponsável ou um lunático — era um grande político.
Não admira que em plena crise haja quem pense que o Governo é mau simplesmente porque corta salários e aumenta impostos, em vez de mandar imprimir mais dinheiro. O Governo é de facto mau, mas não nesta acepção infantil, de vilão, de figura cruel e caprichosa de desenhos animados. Muitos portugueses, se perguntados sobre o que acham do Governo, dirão «é mau!» com a clarividência, o tom, a expressão, a lagrimita e o polegar na boca de uma ressentida criança de seis anos.
Paradoxalmente, os políticos foram sempre tidos numa péssima conta pelos portugueses. Ladrões, oportunistas, mentirosos, gente sem escrúpulos nem interesse pelo bem comum. Estavam lá, no poder, apenas para se servirem. Depois, eleição após eleição, estes ladrões angariavam a maioria dos votos. É que, nas pausas de serem crianças, no meio da sua esquizofrenia, os portugueses sabiam que os políticos não eram diferentes deles próprios. Eram seus iguais. Tinham saído do seu seio. Que cidadão não aproveitava ou traficava uma cunha, não fazia ou pedia o seu favorzito? Que cidadão não enganava o fisco, se pudesse? Que cidadão não encarava o Estado como uma entidade opressora ou um tesouro a saquear, se tivesse a oportunidade? A má opinião sobre a classe política era apenas o exercício quotidiano da hipocrisia, a receita a horas certas para recalcar os próprios defeitos.
O Estado desbaratou os fundos europeus. E quantas empresas e cidadãos o não fizeram? Quantas empresas e cidadãos não usaram o crédito e os incentivos financeiros como meio para obter brindes de vaidade em vez de melhorias na produção? Quantos portugueses não frequentaram sonambulamente cursos de formação apenas pelo dinheirito ao fim do mês enquanto aquilo durava? Quando o Estado desbaratou fundos não o fez, aliás, para agradar ao portuguesinho na sua necessidade de ornamento, de festarola? (Ou de lucro fácil para alguns…) Quantos portugueses pensaram que os estádios do Euro eram uma insanidade? Quantos portugueses não julgaram os presidentes de câmara pela obra feita, mesmo que essa obra fosse frequentemente inútil e desmedida?
Muitos sabiam, muitos diziam que ainda um dia haveríamos de pagar. Esse dia é hoje.
Mas se tudo o que disse atrás é verdade, nada autoriza o Governo a solicitar ou aceitar relatórios conducentes à explosão do país. Uma coisa é mudar o estado das coisas, outra é acabar com o Estado. É que, paradoxalmente, o Estado português melhorou e muito nos últimos vinte anos. Em muitas áreas tornou-se mais eficaz, mais presente no território, mais próximo do cidadão. Descentralizou-se e melhorou, na saúde, na educação, na cultura. Diminuiu a pobreza. Protegeu. Só quem não tem memória ignorará como se vivia melhor em 2010 do que em 1980.
Claro que se pode dizer que o dinheiro da Europa foi tanto que deu para desbaratar e fazer boas coisas. Deu para as grandes negociatas e para as boas obras. Ou, se quiserem, que o endividamento foi tanto que permitiu dar crédito e lucros milionários aos barões dos negócios e umas belas férias ao cidadão anónimo.
O Estado precisaria então de ser reformado? Certamente. Era preciso eliminar a corrupção, o despesismo, o tráfico de favores, o saque, a cultura de indolência e de irresponsabilidade. É isto que o Governo está a tentar fazer? Nem em sonhos. Nada de verdadeiramente estrutural está a ser mudado na sociedade portuguesa para este fim. Desde logo porque o Governo é demasiado representativo do que há de podre na sociedade portuguesa. A inefável dupla Dupont e Dupond, ou Passos & Relvas, não mexerá, não saberia ou quereria mexer uma palha nesse domínio. Tirando umas generalidades — como eliminar freguesias e acabar a eito com empresas municipais ou fundações, que se convencionou serem todas antros de compadrio ou esbanjamento e por isso dão para fingir que se combate esses males — os homens não querem ir ao cerne das questões. Preferem derrubar a floresta a ter de identificar as árvores apodrecidas e lidar com elas.
Tudo o que se está a tentar fazer em Portugal é avançar com bulldozers, terraplanar sem observar o território. Um governo que põe capacete e se senta aos comandos duma retroescavadora pode parecer aos olhos duma qualquer troika ou duns falcões estrangeiros um Governo laborioso, cheio de energia e vontade de começar de novo. Mas na verdade o Governo é uma espécie de homem do fraque, ocupado apenas em cobranças coercivas à classe média. Decidiu-se que há uma factura a pagar já, e o Governo encarregar-se-á disso. Sem argumentar. Sem pedir tempo. Sem ligar às baixas. Fingindo que a Grécia é longe.
É que o Governo também tem uma costelita ideológica. Identifica-se com um certo liberalismo avançado e a alta finança. A sua fidelidade não vai para o povo português — vai para a doutrina e para os gurus internacionais. O Governo não se preocupa se ninguém consegue ver a economia a criar empregos nos próximos anos. Não o preocupa o desemprego — preocupa-o o custo do trabalho. O seu ponto de vista é, por defeito de formação, o da empresa, da grande empresa — exclui o do trabalhador. As empresas têm de dar lucros, eis o ponto. O problema do desemprego resolve-se com fé numa página de Excel (em papel Bíblia claro) ou diminuído o período de vigência do fundo de desemprego. É que o problema do desemprego só existe enquanto isso significar encargos para o Estado. Se a economia criar empregos, diminui-se a despesa do Estado. Se as pessoas forem perdendo o direito ao fundo de desemprego, diminui a despesa do Estado. Diminuir a despesa do Estado é tudo o que importa. E isso é cumprido de duas maneiras: em resultando a estratégia (mais conhecida por wishfull thinking) do ministro das finanças ou pela via da demolição das funções do Estado.
Lá fora são solidários com este objectivo. Muito solidários, mesmo. O FMI, que já percebeu como falham as suas previsões e as suas estratégias, tratou agora de forçar o plano B. Que na verdade sempre foi o plano A. O seu relatório parece, e de certa forma é, uma confissão de culpa e falhanço da troika e do Governo, mas é apresentado como uma incriminação dos portugueses. Porque o que querem fazer em Portugal necessita que os portugueses se sintam demasiado envergonhados e culpados para se defenderem ou procurarem alternativas.
Como diz Luís M. Jorge neste post, o relatório do FMI é uma «posição negocial». Tão dura que qualquer concessão nos parecerá uma amostra de paraíso. Preparam-se para nos bombardear e ameaçam com a bomba atómica. De seguida enviam “apenas” uns misseis convencionais que poucas paredes deixam de pé e nós agradeceremos como se tivéssemos sido aspergidos com rosas.
Se a troika e a Europa estivessem interessadas em resolver o problema de Portugal também para os portugueses, davam-nos tempo e condições para isso. Exigiam que o Governo fizesse de facto reformas, não demolições. Mostravam um pouco mais de solidariedade. De resto, a Europa, que não foi inocente na desmontagem da nossa economia, já foi solidária com povos com culpas maiores do que as portuguesas.
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
Era uma Falácia da Falsa Dicotomia, faxavor!
Escreve Henrique Raposo no Expresso:
«Não querem cortes? Ok, defendam aumento de impostos»
Eis um exemplo clássico da Falácia da Falsa Dicotomia, um all-time favourite de políticos e opinion makers.
A questão não é simplesmente «quero cortes»/«não quero cortes», ou «quero aumento de impostos»/«não quero aumento de impostos».
- Eu quero cortes numas coisas, aceito cortes noutras e não quero cortes ainda noutras.
- De igual modo, quanto aos impostos, eu quero aumentos nuns, aceito aumentos noutros e não quero aumentos ainda noutros.
- Tudo isto, claro, dependente ainda dos valores em concreto dos cortes/aumentos: concordar com o princípio do corte/aumento não implica necessariamente concordar com o valor definido pelo Governo.
Com raras excepções, o Governo não cortou/aumentou onde eu queria, cortou/aumentou onde eu não queria, e sempre em valores de que discordo.
quarta-feira, 9 de janeiro de 2013
Detalhar o futuro (2)
Assim, ou esta gente que veste Chanel e faz o Reveillon no Rio aceita que talvez a dívida e o memorando sejam de renegociar, nos seus termos e sobretudo no seu prazo, ou terá de começar a preparar com denodo e cinismo nazi os seus relatórios de baixas. O que não lhe deve ser difícil, aliás.
Que sejam o passado, as circunstâncias e a dura realidade a lançar-nos no desemprego e na fome, não a teimosia, a estratégia ou a ideologia actuais.
Detalhar o futuro (1)
terça-feira, 8 de janeiro de 2013
«Obélus, par Toutatis, redeviens Obélix. Ça urge!»
Depois de abraçar esfuziantemente Vladimir Putin e de jantar com ele, Gérard Depardieu, já com o novo passaporte russo no bolso, voou para a república russa da Mordóvia, região tristemente famosa pelos campos de concentração do tempo de Estaline e onde ainda hoje o duro sistema prisional russo é o principal empregador. (Nadezhda Tolokonnikova, uma das Pussy Riot, cumpre pena de prisão aqui.)
Na Mordóvia, com o actor devidamente paramentado, foi-lhe oferecido o posto de ministro da cultura. (Os jornais não dizem se Depardieu aceitou, mas como os 13% de imposto sobre os rendimentos são válidos em qualquer parte da Rússia, é pouco provável que o novo súbdito de Putin tenha interesse em passar mais do que umas horas nas franjas da Sibéria...)
Ver assim Depardieu, a fazer triste figura com as prebendas do tirano russo, traz-me à lembrança aquela cena de Astérix e Obélix contra César (1999) em que Obélix, disfarçado de legionário romano (“Obélus”), vai sendo lentamente seduzido pelas ofertas do escroque Lucius Detritus (Roberto Benigni). O problema, claro, é que Gérard Depardieu não é o infantilmente inocente Obélix, nem basta gritar-lhe «Obélus, par Toutatis, redeviens Obélix. Ça urge!» para o resgatar.
Notícia na BBC:
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
Saído do nevoeiro
O termómetro ameaça com zero graus. A neblina começa por sitiar a cidade barrando os flancos poente e nascente e depois sobe dos rios e encobre as ruas. Ele entra no estabelecimento para fugir do frio nocturno — percebe-se ao cabo de uns segundos —, mas as suas roupas, as suas barbas e o seu cabelo (negros) não estão suficientemente desalinhados para que o classifiquemos sem dúvidas como um sem-abrigo. Ou, como é mais usado por aqui, um «bêbado».
Varre o interior com um olhar que não implora nem acusa e senta-se numa das duas mesas livres à entrada, debaixo do plasma que transmite o jogo da noite. De mãos nos bolsos do casaco, fixa o tampo de fórmica e recolhe-se como um monge que meditasse e aguardasse digna e pacientemente a distribuição do caldo. Por acção da temperatura agradável da sala o seu corpo amolece, inclina-se, a cabeça vai descendo de encontro à mesa. Não como se cabeceasse à lareira: é um movimento lento mas contínuo, sem recuos ou estremeções. Os taxistas e outros habitués do café vão fazendo no intervalo das jogadas apostas sobre se chegará a bater ou não com o nariz na mesa. Não lhes ocorrem outras ideias sobre a personagem que saiu do nevoeiro. Apenas a chalaça indiscreta, sobranceira, pueril. O empregado que passa dá uma palmada na mesa para o acordar e avisar que a mesa faz falta.
De súbito, um cliente avança de uma posição discreta no balcão e com modos suaves pergunta-lhe se quer uma sopa. Ele não reage com indignação ressentida, fermentada a álcool, nem fica humildemente agradecido. Estremunha um pouco e depois informa em voz baixa, neutra, que preferia um prato de batatas fritas. Os taxistas mantêm um olho indeciso no plasma e outro nas barbas do Rasputine. O cliente anui com naturalidade, batatas fritas é uma opção nutricional como outra qualquer.
Daquele momento em diante, o homem saído do nevoeiro é também um cliente, mesmo que a expensas de outrem, e o empregado age em consonância. Abandona os modos paternalistas e censórios, traz-lhe uma toalha de papel, talheres e guardanapo. Parece até afectuoso, talvez contagiado pelo gesto do cliente anónimo, que entretanto retomou sem considerandos o seu lugar na linha que do balcão assiste ao Estoril-Benfica.
Mais alguém se sentiu contagiado ou achou que faltava naquela mesa acompanhamento líquido e uma taça de vinho tinto é servida, sem gracejos nem moralismos. O das barbas come as batatas e bebe o vinho. Não procura colocar o copo a jeito de um encore, ainda que decerto lhe não caísse mal. No fim, limpa-se minuciosamente com o guardanapo e, sem palavras nem emoções aparentes, mendigo de passagem ou incógnito Rei Artur regressado da Cruzadas, volta com dorida fleuma para o nevoeiro de onde saiu.



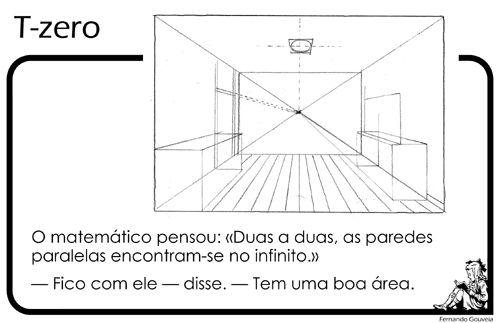







![Desabrochar: v. Tirá-lo da boca. [Wackypedia: contributos para um léxico alternativo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijKTKCnTnuWfzie_D23D9f4qCP7jKAN1Qku6vOL0zc6hX4gxI9UsOcnqod_2vupZNaP4jPCMbd8oR1PhfMoqUdOgZ1rZhFTuHZsIxq31vlMKl1-FRW88wMw50r0J1ptAyaFhXfP8tpfLR4/s400/Sexo_Desabrochar.gif)





![Biscoito: s. m. Duas fodas. [Wackypedia: contributos para um léxico alternativo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghGgVJj8j3b2ieVSPjlsMQSYsDRz3nWpxIF5jB6QbI85NIZQcWwnTKhL4j0swV1sNCKBN2NelsLoohzOHUa5aPmaFiT-Px7C7qKaq03Ub-SV6ahlM0JDYRm5b7ZKCZJO0m2f9fu28ccb5U/s400/Sexo_Biscoito.gif)




![Anuir: v. Sodomizar. [Wackypedia: contributos para um léxico alternativo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij5VhKTjKoHURXtuYyeCN2ah5r2IywU0l1f-Of8_XtZNpSW2qC77DX3RQFfDeEWF_e0eLcSF4zSYnfipxd7vpRHhPpafv9U7CDJMOfNzzJNhoqUVX4mjR9QfTen4UUktVYsRG86tm0sj-b/s400/Sexo_Anuir.gif)

![Acoitar: v. Dar uma nega. [Wackypedia: contributos para um léxico alternativo]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmNLovVi9PybvjKSU-tQYNrsCSsVOrw_ynlJvveLB642HAGyZozD8vqkmLy74Z7hJvQ9YR_AyL0-lTGxqbbmAKtH6WaCI65gblAlAb7aQqy-Pzdq3yVuwjKjH2u3XdcVLKpCNjTkG0q2q6/s400/Sexo_Acoitar.gif)